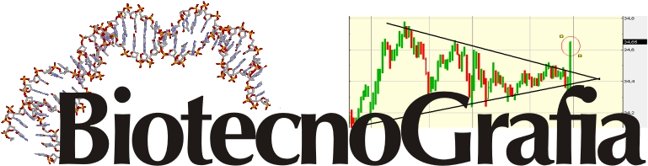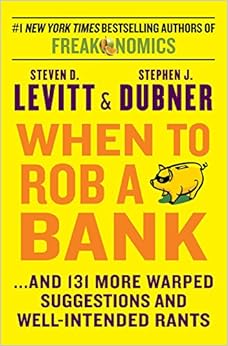Recentemente, recebi de um amigo uma postagem de um blog que dizia acabar com o mito da pedalada puxada, dizendo que "a ciência mostra que a puxada na pedalada é irrelevante para a geração de força". O blog é recheado de informações pseudo-científicas: traz um vídeo de um especialista e cita o Dr. Jeff Broker. Em uma busca por artigos do Dr. Brokes nas principais bases de dados de artigos científicos do mundo, o PubMed e o Web of Science, não encontrei este trabalho e o trabalho mais recente do Dr. Brokes sobre o assunto data de 2001 e não menciona o uso de clipes de pedal.
De qualquer forma, existe muita literatura mais recente sobre o assunto. Então resolvi fazer um levantamento verdadeiramente científico sobre o tema: pedalar puxando o pedal para melhorar a pedalada é mito ou verdade?
Antes de iniciar, temos que esclarecer alguns parâmetros para melhor compreensão:
EP (Efetividade da força): força entregue aos pedais durante a pedalas. Quanto maior a Efetividade, mais forte e eficiente é a pedalada;
EB (Eficiência bruta): EP corrigida pela quantidade de energia gasta pelo ciclista. Quando maior a Eficiência, menos energia o ciclista gasta para manter aquela potência de pedal;
Regularidade de Distribuição do Torque: distribuição de força entregue aos pedais durante o ciclo da pedalada. É uma medida da variação da força exercida nos pedais conforme se gira. Quanto maior a força em uma só direção - para baixo - por exemplo, menor a Regularidade.
A principal limitação dos trabalhos sobre o tema está no uso de sistemas ergométricos com potência e cadência de pedal constantes, o que simula bem a realidade de bicicletas de estrada (speed) mas não a de Mountain Bike, onde o posicionamento do ciclista e a potência e cadência de pedal mudam a todo o momento. Dois trabalhos clássicos apresentam as figuras representadas abaixo:
As Figuras mostram a força (Torque) da pedalada em função do ângulo do pedal. A 90o, com os pedais na horizontal, a força é máxima (para baixo), chegando perto de zero a 180o, com os pedais na vertical, a força é próxima de zero e chega ao valor mínimo a 270o, com os pedais na horizontal novamente.
A Figura superior (MORNIEUX et al., 2008) mostra o perfil de dois grupos: Ciclistas de elite e Não-ciclistas, utilizando três condições: pedais comuns de plataforma, pedais com clipes (Clipless - erroneamente traduzidos para o português) e pedais forçando a pedalada puxada (Clipless Feedback).
A Figura inferior (KORFF et al., 2007) mostra o mesmo gráfico com ciclistas de elite orientados a pedalar com sua técnica preferida (Preferred), forçando a pedalada circular (Circuling), forçando a puxada (Pulling) ou somente empurrando (Pushing).
Pelos dois gráfico, percebe-se que a força diminui quando se puxa o pedal, tanto em 90o quanto em 270o. Como estes experimentos são feitos com a potência de pedalada constante (200 wattz e 90 rpm), isso significa que os ciclistas fazem menos força para manter o mesmo giro e a mesma potência entregue aos pedais.
Como resultado, a Efetividade da força e a Regularidade do Torque são maiores quando a pedala inclui a puxada, conforme demonstrado na Figura abaixo (KORFF et al., 2007):
A figura mostra que existe um aumento significativo da Efetividade da força (B) e a Regularidade do Torque (A) com a utilização da puxada (Pulling) na pedalada em relação a todas as outras formas de pedalar, inclusive àquelas preferidas dos ciclistas. Monieux e colaboradores (2010) mostra resultados semelhantes. Na Figura abaixo, a Efetividade é mostrada em função dos quatro quartos de volta da pedalada, mostrando que o aumento é observado tanto nos primeiros 90o, quanto entre 180o e 360o:
A desvantagem observada na pedalada puxada se encontra na Eficiência bruta da pedalada, ou seja, na relação entre a Efetividade da força e o Gasto metabólico, a energia gasta pelo ciclista durante a pedalada. O gasto metabólico pode ser calculado pelo volume de oxigênio utilizado e de gás carbônico produzido durante a pedalada. Estes resultados podem ser vistos na Tabela abaixo (MORNIEUX et al., 2008):
A Tabela mostra, no quadro vermelho, que a Efetividade da força (IE) é maior na pedalada puxada (Clipless feedback) do que as outras técnicas em todos os quadrantes do giro dos pedais (360, DOWN e UP). No entanto, a Efetividade Bruta (NE), no quadro amarelo, é menor na pedalada puxada do que nas outras técnicas. O mesmo resultado pode ser observado por Korff e colaboradores (2007) na Figura abaixo, onde a pedalada puxada (Pulling) mostra menor Eficiência que todas as outras técnicas:
Em suma, apesar da pedalada puxada adicionar potência ao pedal, o gasto energético do ciclista é maior, tornando a pedalada menos eficiente a longo prazo. Mas porquê esse gasto energético extra? A resposta está no grupo de músculos utilizados para empurrar e puxar os pedais. A força que fazemos para empurrar os pedais vem, principalmente de três músculos: Gastrocnêmico, Vasto medial (Quadríceps) e Glúteo Maximus, mostrado respectivamente na Figura abaixo:
 |
| Músculos envolvidos principalmente no ato de empurrar para a pedalada circundados em vermelho e no ato de puxar os pedais, circundados em amarelo. |
Em se tratando de ciclismo de estrada, isso pode ocorrer somente em um sprint, no entanto, em Mountain Bike acontece a todo momento; para subir uma ladeira técnica, escalar uma pedra ou barranco íngreme ou para vencer um obstáculo. Ou seja pedalar puxando o pedal quando potência extra é necessária, longe de ser um mito, pode ser uma ferramenta extremamente importante e necessária, principalmente em Mountain Bike,
Referências
KORFF, T., ROMER, L.M., MAYHEW, I., MARTIN, J.C. Effect of pedaling technique on mechanical effectiveness and efficiency in cyclists. Med Sci Sports Exerc. 39(6):991-5. 2007.
MORNIEUX, G., STAPELFELDT, B., GOLLHOFER, A., BELLI, A. Effects of pedal type and pull-up action during cycling. Int J Sports Med. 29(10):817-22. 2008.
MORNIEUX, G., GOLLHOFER, A., STAPELFELDT, B. Muscle coordination while pulling up
during cycling. Int J Sports Med. 31(12):843-6. 2010.